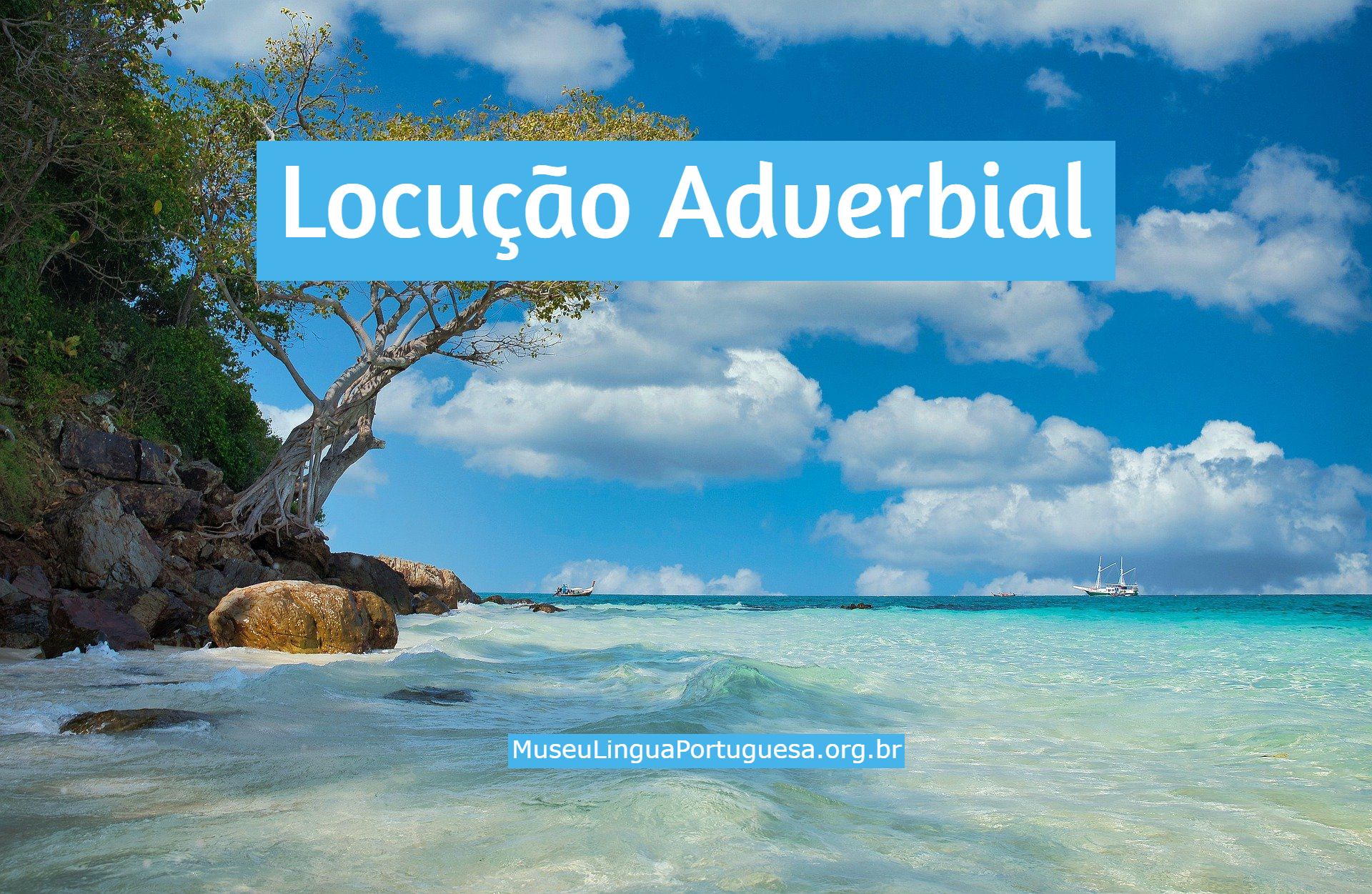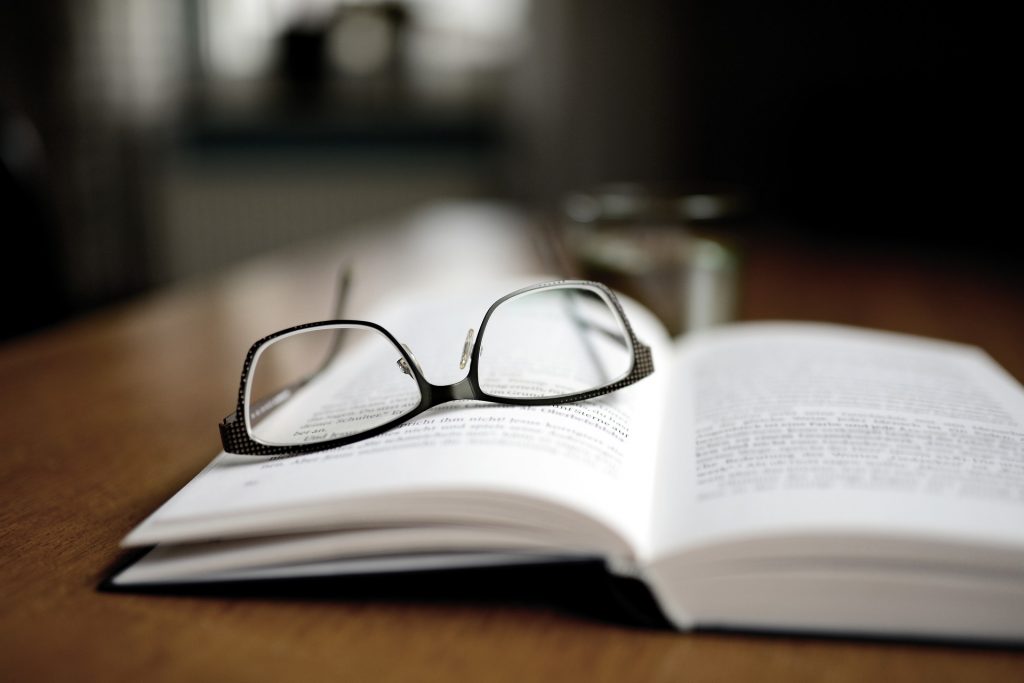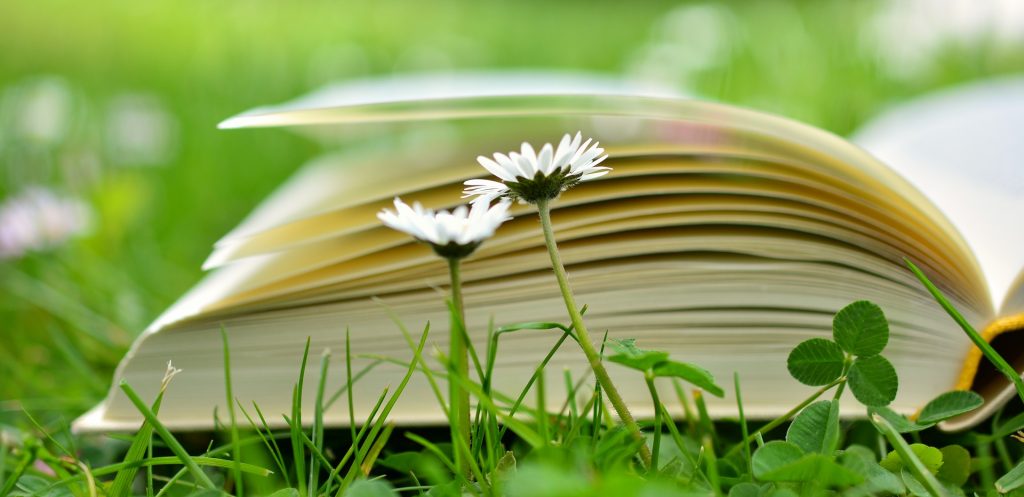Quando o verbo se flexiona em número (singular ou plural) e em pessoa (1ª, 2ª ou 3ª pessoa), concordando com o sujeito gramatical, ocorre a concordância verbal. Apesar de parecer uma simples regra, há inúmeros casos específicos que podem confundir o falante, levando-o ao erro.
São exemplos de concordância verbal:
- Eu sou alto.
- Nós somos altos.
- Pedro já tomou banho.
- Pedro e Mariana já tomaram banho.
Concordância verbal e concordância nominal
Além de concordância verbal, numa fase acontece também concordância nominal, ou seja, concordância em gênero e número entre o substantivo e os diversos termos da oração que se relacionam com ele.
Casos específicos de concordância verbal
Há inúmeros casos específicos de concordância verbal, apesar de existir a regra básica de concordância verbal com o sujeito gramatical.
Concordância verbal com sujeito simples
Quando apresenta apenas um núcleo, o sujeito é considerado simples. O verbo deverá concordar em número e pessoa com esse núcleo.
- O menino gosta de jogar videogame.
- Os meninos gostam de jogar videogame.
- Eu vi o carro.
- Nós vimos o carro.
Concordância verbal com verbos impessoais
A concordância verbal deve ser feita sempre com a 3 ª pessoa do singular quando os verbos não apresentam sujeito, sendo chamados de impessoais.
- Havia cadeiras e lugares suficientes para todos (verbos haver)
- Faz seis meses que eu o conheci. (verbo fazer)
- Chovia todas as noites. (verbos de fenômenos atmosféricos)
Concordância verbal com sujeito composto
Quando apresenta dois ou mais núcleos, o sujeito é considerado composto. O verbo deve concordar em número e pessoa com todos os núcleos, aparecendo sempre no plural.
- A Luana e o Ricardo estão namorando.
- Ela e ele estão namorando.
Concordância verbal com o verbo ser
Conforme a regra base de concordância verbal, o verbo “ser” estabelece concordância com o sujeito gramatical. Entretanto, sendo um verbo de ligação, em alguns casos estabelece concordância com o predicativo do sujeito.
- São sete da manhã
- Até parece que tudo são flores.
- Quem são os pais dessa criança?
Concordância verbal com a partícula se
A concordância verbal é estabelecida com o sujeito paciente quando a palavra “se” é uma partícula apassivadora, variando em número.
- Aluga-se casa.
- Alugam-se casas.
A concordância verbal é estabelecida sempre com a 3 ª pessoa do singular quando a palavra “se” é uma partícula indeterminadora do sujeito.
- Precisa-se de motorista.
- Precisa-se de motoristas.
Concordância verbal com os verbos dar, bater e soar
Com os verbos dar, bater e soar, a concordância verbal é feita com o sujeito da oração se for dada ênfase ao substantivo. Sendo dada ênfase ao verbo, a concordância verbal é feita com o numeral.
- O relógio da igreja deu oito horas (concordância com o sujeito)
- Deram oito horas no relógio da igreja. (concordância com o numeral)
Concordância verbal com o verbo parecer
Nas construções em que o verbo parecer aparece conjugado com um verbo no infinitivo pode acontecer apenas a flexão do verbo parecer ou apenas a flexão do verbo no infinitivo. O erro acontece quando é feita a flexão dos dois verbos em simultâneo.
- Os gatos pareciam compreender a dona. (flexão do verbo parecer)
- Os gatos parecia compreenderem a dona. (flexão do verbo no infinitivo)
Concordância verbal com haja vista
São aceitos dois tipos de concordância verbal com a expressão “haja vista”. Ou a expressão se mantém inalterada, sempre no singular, ou ocorre flexão do verbo haver em número, ficando haja ou hajam vista. Ambas as formas são corretas.
- É necessária uma nova postura, haja vista a injustiça social que ainda ocorre.
- É necessária uma nova postura, haja vista as injustiças sociais que ainda ocorrem.
- É necessária uma nova postura, hajam vista as injustiças sociais que ainda ocorrem.
Concordância verbal com verbos no infinitivo
Os verbos no infinitivo podem ser utilizados de forma flexionada (infinitivo pessoal) ou de forma não flexionada (infinitivo impessoal).
Sempre que houver um sujeito definido ou quando se quiser definir o sujeito, a concordância verbal deve ser feita com o infinitivo pessoal. Também quando o sujeito da segunda oração for diferente do da primeira e para indicar uma ação recíproca.
- Esta pizza é para nós comermos.
- O tio não viu os sobrinhos entrarem na escola.
- Acho fundamental finalizares o artigo.
A concordância verbal deverá ser feita com o infinitivo impessoal quando não houver um sujeito definido, quando o sujeito da segunda oração for igual ao da primeira oração em locuções verbais e com alguns verbos que não formam locução verbal (ver, sentir, mandar,…)., quando o verbo tiver regência de uma preposição e quando o verbo apresentar um sentido imperativo.
- Apenas os médicos conseguiram escrever os relatórios.
- Fui obrigado a entender essas regras específicas.
- Ser pleno é o mais importante!
Videoaulas
Referências:


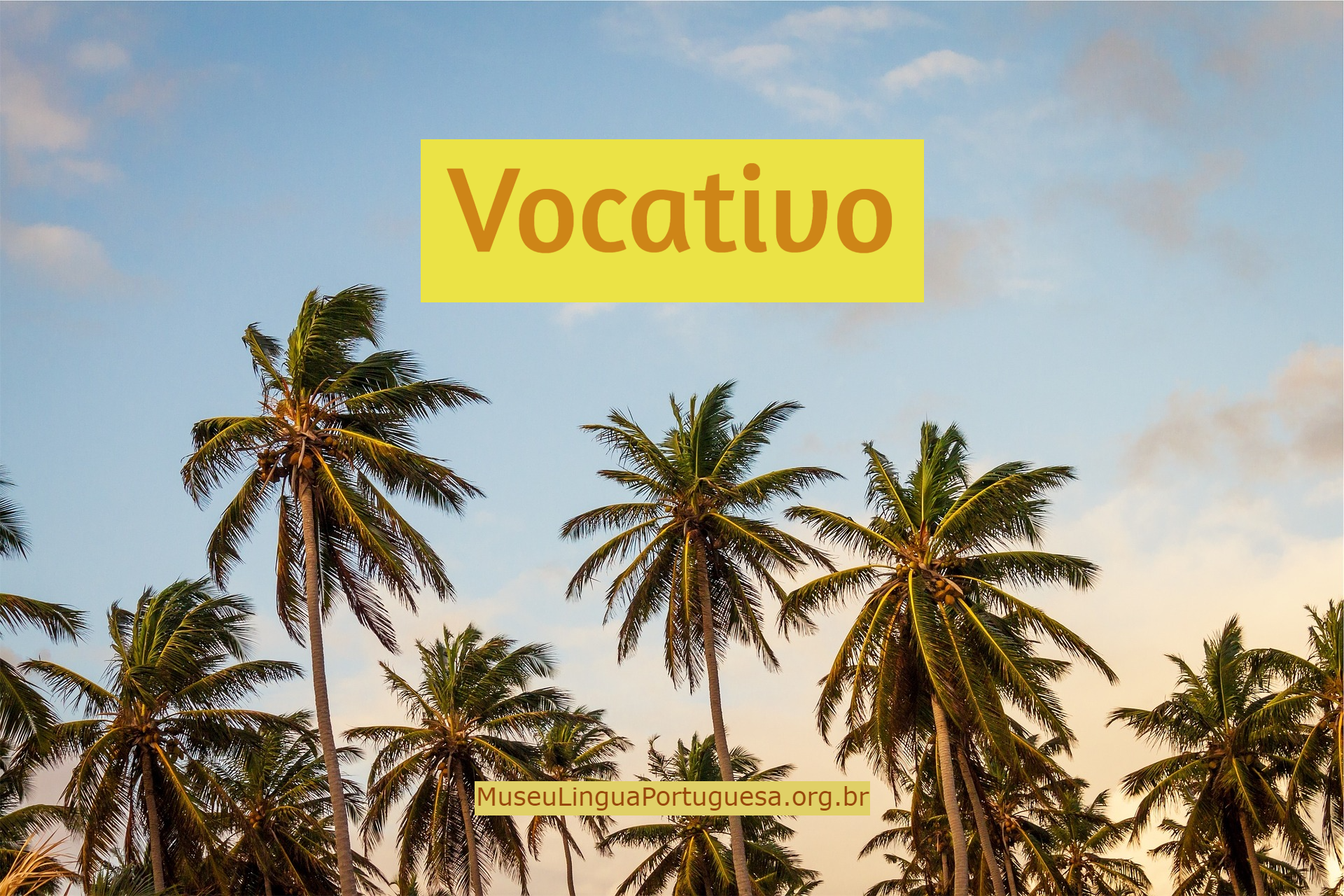

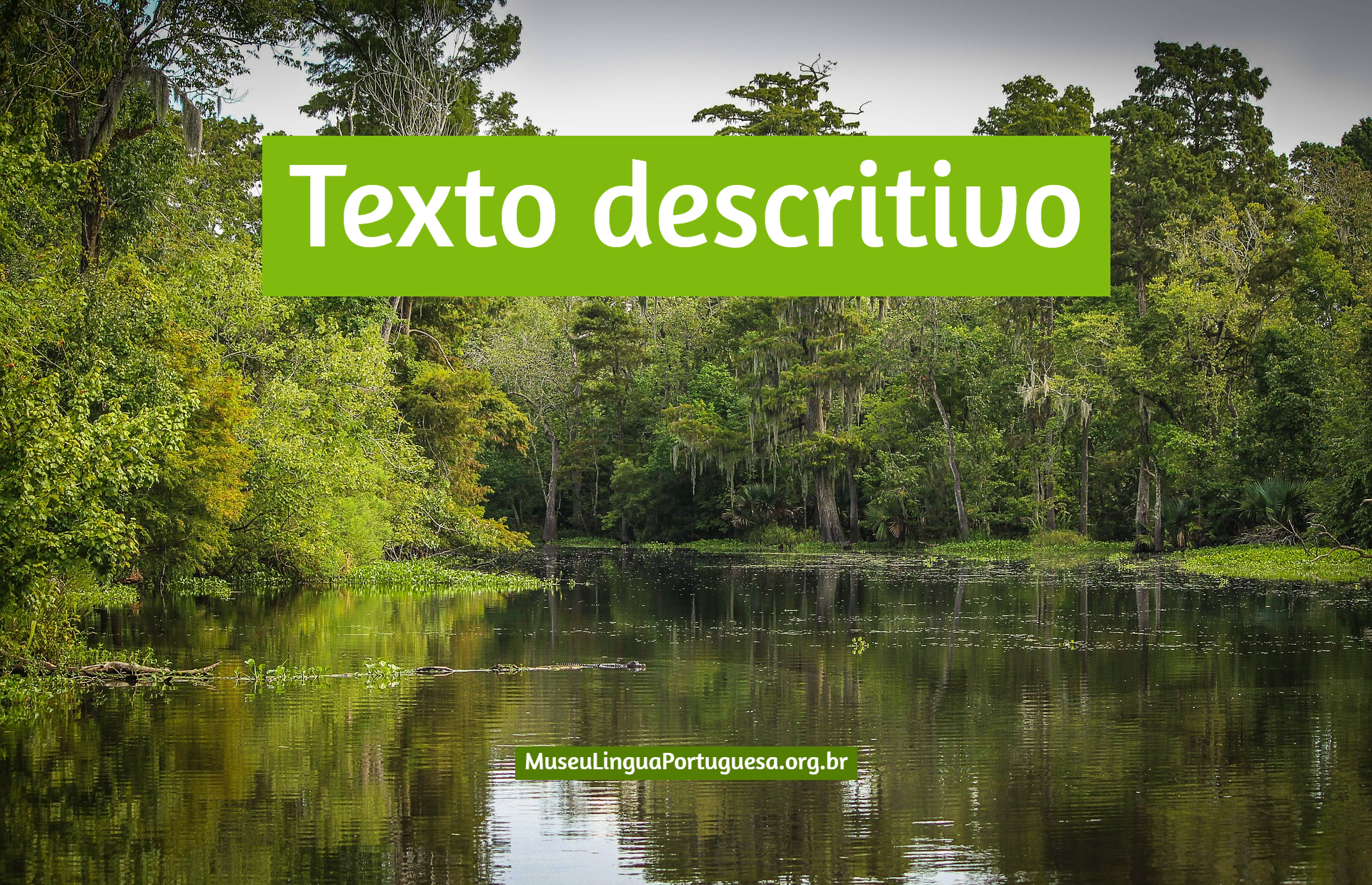
![Reticências [ … ]](https://museulinguaportuguesa.org.br/wp-content/uploads/2021/03/gelo-reticencias.png)